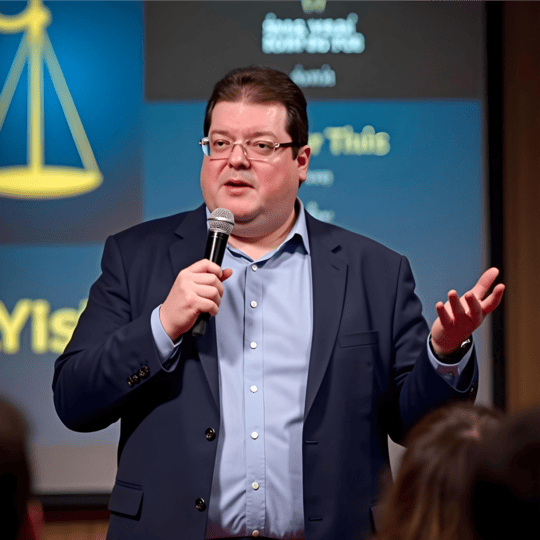Nos primórdios dos desafios em saúde mental, falta de tato no manejo dos pacientes e o constante preconceito presente nessa seara fizeram eclodir a ideia de equilíbrio mental versus loucura, fazendo estabelecer-se a prática de esconder as diferenças atrás de barreiras altas, protegidas por fechaduras que só pareciam abrir com base em diagnósticos convenientes. No Brasil, essa tradição disciplinar encontrou terreno fértil em locais por vezes chamados de asilos, ou hospitais, mas sempre caracterizados pela ideia de confinamento. Em oposição esse tipo de tratamento, o Movimento Antimanicomial surgiu como uma resistência a essa cultura de exclusão, profundamente enraizada na sociedade, defendendo a substituição do controle autoritário pelo cuidado em liberdade.
A Resolução 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, divulgada em 17 de janeiro, entra nesse debate como um ponto crucial. Em vez de estabelecer uma política pública independente, o documento serve como um guia para os juízes lidarem com indivíduos em sofrimento mental ou com problemas relacionados ao uso de substâncias, especialmente no contexto penal. Seu conteúdo orienta as audiências de custódia, incentiva a colaboração imediata com a Rede de Atenção Psicossocial e promove a adoção de medidas cautelares que substituem a internação compulsória por alternativas comunitárias, como os Centros de Atenção Psicossocial ou residências terapêuticas. Em resumo, propõe que a Justiça deixe de ser a guardiã da vulnerabilidade e passe a ser sua protetora, uma exigência que deriva diretamente do princípio da dignidade humana estabelecido no Art. 1º, III da Constituição Federal de 1988.
No entanto, ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Os requerentes argumentam que o CNJ ultrapassou sua competência ao interferir em questões de saúde pública, violando a separação dos poderes. Além disso, defendem que a decisão sobre a internação ou aplicação de tratamentos deveria ser tomada com base em avaliações médicas, e não em resoluções administrativas. No entanto, tais argumentos perdem força quando confrontados com o §4º do Art. 103-B, que respalda a atividade normativa do Conselho com o objetivo de padronizar procedimentos judiciais. Além disso, a Lei 10.216/2001, marco da Reforma Psiquiátrica, já estabelecia a prioridade do tratamento fora dos hospitais, em conformidade com convenções internacionais de direitos humanos, em especial a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada como emenda constitucional. O CNJ não está legislando, mas apenas atualizando a maneira como os juízes devem colocar em prática as diretrizes confiadas pelo legislador democrático e pelo poder constituinte derivado.
Do ponto de vista filosófico, a Resolução está fundamentada em uma mudança epistemológica que Michel Foucault identificou de forma perspicaz: a transição da racionalidade soberana, que isola o “anormal” para preservar uma suposta pureza social, para uma racionalidade biopolítica que, teoricamente, reconhece no cuidado uma forma de governo menos violenta. Ao deslocar o foco do ambiente hospitalar para a comunidade, o texto normativo elimina a distinção entre o interno e o externo, lembrando-nos que o bem-estar mental é construído nas ruas, escolas e relações interpessoais, mais do que em instituições hospitalares. Do ponto de vista sociológico, Erving Goffman descreveu o manicômio como uma instituição total, onde ocorre a “morte do eu”. Nessa perspectiva, cada audiência de custódia que adota a Resolução 487/2023 é um ato de resistência contra a “anulação do eu”, uma ação política que renova as possibilidades de identidade para o indivíduo rotulado como perigoso.
É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma abordagem humanista em sua interpretação do Direito, como visto no julgamento da ADPF 347, ao reconhecer a situação de inconstitucionalidade do sistema carcerário, e no Tema 1098 da repercussão geral, que proibiu revistas vexatórias em visitantes de presídios. Esses precedentes demonstram uma crescente sensibilidade em relação à dignidade e podem influenciar a decisão futura sobre a Resolução. Caberá à Corte, como guardiã da Constituição, assegurar que a garantia dos direitos fundamentais não esteja sujeita a julgamentos clínicos de normalidade.
Do ponto de vista do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a abordagem é clara. O artigo 14 da CDPD proíbe a privação de liberdade com base unicamente na deficiência, e o Comitê da ONU tem reiterado que transtornos mentais, por si só, não justificam a internação involuntária. Ao promover a interseção entre a justiça criminal e o cuidado comunitário, a Resolução alinha o Brasil com as diretrizes de Bangkok sobre mulheres privadas de liberdade, as Regras de Mandela para o tratamento de prisioneiros e, igualmente importante, o Pacto de San José da Costa Rica. Portanto, uma eventual declaração de inconstitucionalidade colocaria o país em conflito não apenas com a Constituição de 1988, mas também com os compromissos internacionais que voluntariamente assumiu.
No entanto, ainda existem críticas. Juízes de varas criminais estão preocupados com a falta de estrutura na Rede de Atenção Psicossocial para lidar com a demanda reprimida, enquanto os gestores municipais apontam para o subfinanciamento crônico da saúde mental. Embora esses desafios sejam reais, não invalidam a constitucionalidade da Resolução; eles apenas destacam a necessidade de um federalismo colaborativo, conforme estabelecido no art. 23 da Magna Carta.
Por isso, a decisão do STF deve equilibrar-se entre a realidade institucional e o imperativo ético. Uma abordagem seria modular os efeitos da Resolução para exigir um cronograma de expansão da Rede de Atenção Psicossocial, com obrigações impostas à União e aos entes subnacionais, sem comprometer a substância protetiva do documento contestado. Essa solução conciliaria o papel proeminente do Conselho, cuja autonomia administrativa foi estabelecida pelo constituinte, com a responsabilidade executiva na prestação de serviços públicos. Seria uma homenagem tangível ao princípio da reserva do possível em sua interpretação contemporânea, que não tolera a inércia estatal quando o núcleo essencial dos direitos está ameaçado.
Em última análise, o Movimento Antimanicomial não busca piedade, mas justiça. Ele exige o reconhecimento de que a loucura não é um defeito, mas uma forma de existência que enriquece a diversidade. A Resolução CNJ 487/2023 reflete esse apelo normativo, e sua legitimidade constitucional está enraizada nos princípios da Constituição de 1988, que promovem a solidariedade e rejeitam o autoritarismo na área médica e jurídica. Cabe ao Supremo Tribunal Federal afirmar que a liberdade, quando combinada com o cuidado, não representa um perigo social, mas sim a promessa de uma sociedade civilizada. Hannah Arendt nos ensinou que a política surge quando indivíduos se reúnem para dialogar e agir, e não onde são silenciados e segregados. Certamente, o STF, em sua decisão, irá reiterar esse princípio, preservando a diversidade de vozes na esfera pública e garantindo que a voz daqueles considerados loucos, expressa por meio de um cuidado digno, tenha o seu devido lugar na Democracia.