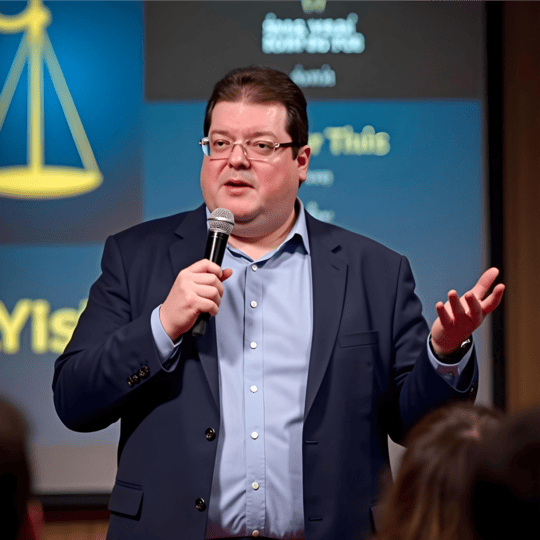A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 — frequentemente chamada de “Constituição Cidadã” — representa um marco normativo civilizatório ao consolidar, em seu núcleo axiológico, os direitos fundamentais da pessoa humana como fundamento da ordem jurídica nacional. Entre tais direitos, figura com especial relevância o direito à segurança, expressamente alçado à condição de direito fundamental no artigo 5º, caput, da Magna Carta, ao lado do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Essa inserção não é meramente retórica: ela impõe ao Estado um dever jurídico-positivo de tutelar e garantir a segurança dos indivíduos, transcendendo a dimensão programática para ingressar na esfera da exigibilidade concreta.
Desde uma perspectiva filosófica, a segurança enquanto valor político e jurídico remonta à gênese contratualista do Estado moderno. Para Hobbes, em seu Leviatã, a razão de ser do Estado repousa na superação do status naturae, marcado pela anomia e pelo beligerante “bellum omnium contra omnes”. O pacto social surge, então, como uma renúncia parcial das liberdades em favor de um ente soberano incumbido de assegurar a paz e a integridade física dos cidadãos. Para Locke, a segurança não se reduz à mera proteção física, mas abrange também a preservação dos direitos naturais — vida, liberdade e propriedade — cuja guarda legitima o exercício do poder estatal. Rousseau, por sua vez, ao tratar do contrato social, defende que a segurança está entre os bens comuns cuja proteção é a finalidade precípua da vontade geral. Desses pilares filosóficos decorre, pois, a imprescindibilidade da segurança como condição existencial para o gozo de qualquer outro direito.
No plano sociológico, Émile Durkheim, ao analisar as funções do Estado, sustenta que a segurança é elemento fundante da coesão social. A ausência de mecanismos eficientes de controle e repressão da violência acarreta anomia, enfraquecendo os laços comunitários e corroendo a confiança nas instituições. Max Weber, ao conceituar o Estado como detentor do monopólio legítimo da força física, aponta que a segurança pública é o principal instrumento de preservação da ordem social e do predomínio da legalidade. Quando o Estado falha em garantir a segurança, compromete-se não apenas a legalidade formal, mas sobretudo a legitimidade do próprio pacto social.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, a segurança pública é disciplinada no artigo 144 da Constituição Federal, que a define como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Essa tripartição, conquanto sugira uma corresponsabilidade entre o Estado e os cidadãos, não exonera a Administração Pública de sua posição de garantidora primária. A doutrina majoritária — a exemplo de José Afonso da Silva, Canotilho e Ingo Wolfgang Sarlet — reconhece que os direitos fundamentais impõem não apenas abstenções estatais (status negativus), mas também ações positivas (status activus), cujo inadimplemento caracteriza omissão inconstitucional. Trata-se de deveres prestacionais derivados da eficácia vertical dos direitos fundamentais.
No tocante à responsabilidade do Estado por falhas na segurança pública, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer, em hipóteses específicas, a responsabilidade integral do Estado — modalidade que prescinde da demonstração de culpa ou da configuração de excludentes — sempre que a atividade estatal representar risco específico à integridade do cidadão ou quando houver violação direta de direito fundamental.
Defendemos, pois, a tese de que a responsabilidade do Estado em matéria de segurança pública deve ser tratada sob o prisma da responsabilidade integral, sobretudo quando se constata uma omissão estatal grave e inescusável na prevenção de danos a direitos fundamentais. Doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro reconhecem que, em certas situações, a omissão estatal configura verdadeira afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que justifica a responsabilização integral como instrumento de concretização da justiça constitucional.
É o caso, por exemplo, de mortes ocorridas em unidades prisionais sob custódia do Estado, chacinas perpetradas por forças policiais ou falhas evidentes em políticas públicas de segurança em comunidades vulneráveis. Nessas situações, não basta à vítima ou a seus familiares provar a omissão genérica do poder público; é suficiente demonstrar que a ausência de diligência estatal violou o dever jurídico específico de proteção, o que enseja o dever de indenizar com base na responsabilidade integral.
Portanto, a segurança não pode ser compreendida como mera promessa retórica das Constituições modernas, tampouco como uma faculdade discricionária do Estado. Ela é núcleo essencial do pacto constitucional, garantia básica de uma convivência civilizada e justa. Quando o Estado falha em proporcionar esse mínimo existencial, frustra-se o próprio projeto normativo erigido em 1988, e a responsabilização plena deve ser imposta como medida de justiça restauradora, pedagógica e constitucionalmente legítima.A dignidade humana — fundamento da República (art. 1º, III, da CF) — exige não apenas o respeito formal aos direitos, mas sua efetiva concretização. A segurança pública, neste contexto, é cláusula pétrea da cidadania, e sua inobservância não pode restar impune sob a égide de um Estado Democrático de Direito.