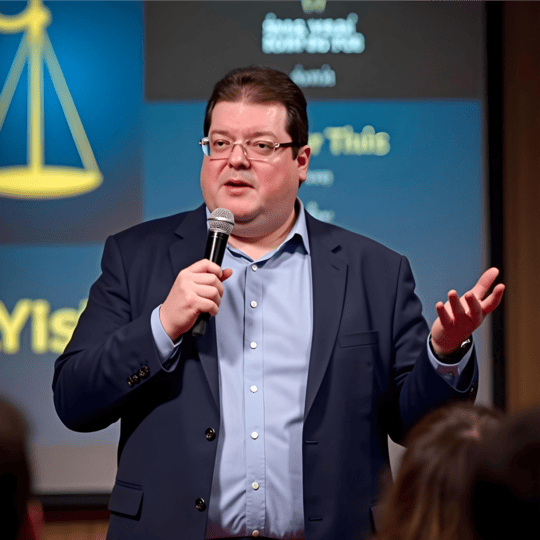Heidegger, em Ser e Tempo (1927), nos convida a pensar o Dasein como ser-no-mundo (In-der-Welt-sein), onde o espaço não é abstração newtoniana, mas um horizonte de significados práticos e existenciais. Os lugares, perenes em sua materialidade, contrapõem-se à flecha inexorável do tempo bergsoniano — essa duração (durée) que flui sem retorno. Assim, este artigo indaga: como esses espaços fixos evocam memórias intensas, tecendo laços entre o eterno e o fugaz? Através de uma lente fenomenológica, aliada a ecos de Platão, Proust e Bachelard, exploraremos essa dialética espacial-temporal.
Platão, no Timeu, concebe o espaço como chora, receptáculo informe e eterno, matriz primordial que acolhe as formas mutáveis. Diferente dos momentos, que são devir heracliteu (“não se pode banhar duas vezes no mesmo rio”), os lugares são hyle aristotélica: matéria prima, substrato que sobrevive às formas efêmeras que a vestem. Uma casa, por exemplo, resiste ao tempo: suas vigas rangem sob o peso de gerações, mas permanecem. Quando retornamos a ela, não é o edifício que mudou, mas nós, e é nessa assimetria que a nostalgia irrompe.
Considere o clube noturno onde dançamos na juventude: suas paredes, impregnadas de ecos sonoros e odores de cigarro e perfume, ativam o que Bachelard chama de poética do espaço em A Poética do Espaço (1958). Para o filósofo francês, a casa é “o cosmos do humano”, um ninho topofílico onde memórias se cristalizam. O espaço não armazena fatos, mas imagens poéticas: o canto da escada onde trocamos o primeiro beijo, o balcão do restaurante onde confidenciamos segredos. Esses loci topográficos ancoram o efêmero, transformando-o em habitus duradouro, como diria Bourdieu.
Heráclito intui isso ao opor o logos eterno ao caos temporal: os lugares são logos espacial, ordenando o devir em permanência. Um banco de praça, sob cuja sombra nos sentamos em contemplação amorosa, não envelhece como o sentimento; ele o preserva, pronto para revivê-lo em visitas futuras.
Husserl, pai da fenomenologia, descreve a memória como retenção e protenção, um arco temporal que projeta o passado no presente. Mas é Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção (1945), quem eleva o corpo ao centro: o espaço não é visto, é habitado. O corpo lembra pelos sentidos: o cheiro de café no restaurante aviltado desperta o paladar de um almoço com avós; o eco dos passos no prédio corporativo revive a ansiedade de uma promoção fugidia.
Essa carne do mundo, como Merleau-Ponty denomina, faz dos lugares protésicos da memória. Proust ilustra magistralmente em Em Busca do Tempo Perdido (1913-1927): o sabor da madeleine mergulhada em chá não é mero estímulo gustativo, mas portal para Combray, a casa natal que, perene em sua essência, resgata o efêmero. Aqui, a nostalgia não é melancolia patológica, mas eudaimonia aristotélica: florescimento pelo recordar.
Empiricamente, neurociência corrobora: o hipocampo, mapeador espacial, entrelaça-se ao sistema límbico afetivo. Lugares ativam engramas, traços mnêmicos vívidos, , explicando por que uma praça pública, palco de protestos juvenis, suscita não só saudade, mas catarse coletiva. Em Heidegger, isso é Stimmung (disposição afetiva): o Geworfenheit (atirado-no-mundo) nos joga de volta ao lugar, revelando nosso ser-autêntico.
Santo Agostinho, em Confissões (397-400), lamenta o tempo como “distensão da alma” (distensio animi), mas louva o lugar como imagem do eterno. Deus é lugar dos lugares, imutável; analogamente, nossos espaços pessoais são microcosmos divinos. A efemeridade dos momentos, nascimentos, amores, despedida, contrasta com a perenidade espacial, gerando saudade como tensão dialética hegeliana: tese (lugar fixo), antítese (momento fugaz), síntese (memória afetiva).
No Brasil, essa dinâmica ganha matiz cultural na saudade, conceito camoniano, explorado por Pessoa como “amor que dura mais que a vida”. Uma praia carioca ou uma praça lisboeta não são neutras; são lugares de eleição (Walser), eleitos pela alma para abrigar o inabrigável. Restaurantes familiares evocam convivium epicúreo: prazer efêmero eternizado no aroma de feijão.
Contudo, essa perenidade é ilusória? Derrida, em sua desconstrução, questionaria: o lugar é sempre différance, diferido, alterado por camadas temporais. Uma casa demolida perde sua potência; um clube gentrificado trai memórias. Ainda assim, o fantasma persiste: ruínas românticas, como em As Ruínas de Volney (1791), testemunham que até a destruição espacial perpetua o afeto.
Os lugares perenes redimem a efemeridade dos momentos, tecendo a tapeçaria da existência humana. Eles nos convocam à poiesis heideggeriana, criação pelo morar autêntico, transformando nostalgia em sabedoria. Em um mundo de nomadismo digital, onde momentos se pulverizam em pixels, revisitar espaços físicos é ato de resistência: um retorno ao oikos primordial.