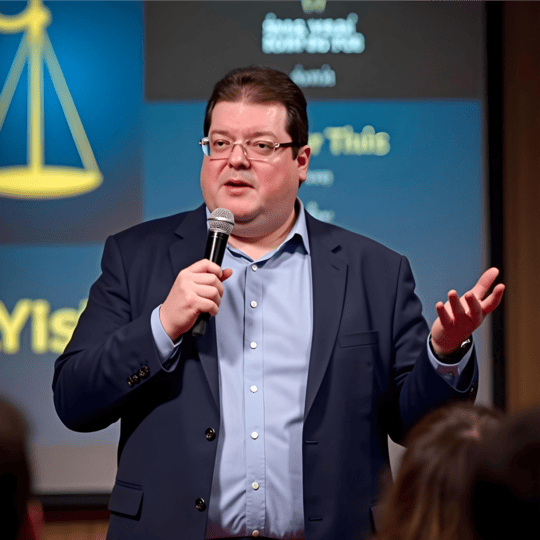Marcelo Henrique de Carvalho
A liberdade de expressão, erigida como fundamento incontornável das democracias liberais, encontra no ordenamento jurídico brasileiro, particularmente na Constituição Federal de 1988 (CF/88), um tratamento robusto, porém necessariamente limitado. Este artigo propõe uma análise densa deste direito fundamental, explorando sua fundamentação filosófica e sociológica, sua positivação constitucional e infraconstitucional, os novos e perversos desafios impostos pela manipulação não profissional nas redes digitais e a crucial – e frequentemente negligenciada – distinção entre liberdade de expressão e autorização para agressão.
Sob o prisma da Filosofia, a liberdade de expressão alicerça-se em pilares como o “mercado de ideias” de John Stuart Mill (“Sobre a Liberdade”), onde o confronto de opiniões conduziria à verdade ou à melhor solução, e na teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, que a vê como essencial para a formação da vontade democrática na esfera pública. Já no âmbito da Sociologia, Norberto Bobbio (“A Era dos Direitos”) enfatiza seu papel como pré-requisito para a participação política e o controle do poder. Contudo, a ascensão da sociedade em rede (Manuel Castells) e a cultura da participação digital (Henry Jenkins) criaram um ecossistema comunicativo radicalmente distinto, onde a “desintermediação” permite que vozes marginalizadas ganhem espaço, mas também facilita a propagação em massa de desinformação e discursos de ódio por atores não profissionais, desafiando os modelos tradicionais de regulação e mediação.
A Constituição da República consagra a liberdade de expressão como cláusula pétrea (Art. 5º, IV, IX, XIV; Art. 220, caput). O Art. 5º, IV, assegura a “livre manifestação do pensamento”, sendo vedado o anonimato. O inciso IX garante a “livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação”. O XIV estabelece o direito de resposta. O Art. 220 declara que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição”, ressaltando o princípio da não-censura. A doutrina constitucionalista brasileira, representada por José Afonso da Silva, destaca que esta liberdade não é absoluta, encontrando limites nos demais direitos fundamentais e na própria ordem constitucional. Luís Roberto Barroso (“Temas de Direito Constitucional”) enfatiza a necessidade de ponderação em casos concretos, utilizando o princípio da proporcionalidade. Canotilho (“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”), embora português, é referência obrigatória ao tratar da dimensão objetiva dos direitos fundamentais e seus conflitos.
Na esfera da Jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firmado entendimento no sentido da ampla proteção, mas com limites claros: no HC 82.424/RS (Ellwanger), reafirmou que o discurso de ódio (nazismo, racismo) não é protegido pela liberdade de expressão, configurando crime de racismo (Lei 7.716/89). Já na ADI 4.451/DF (Lei de Imprensa), declarou inconstitucionais dispositivos da Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) que impunham censura prévia ou restrições desproporcionais, reafirmando o núcleo essencial da liberdade. Na ADI 4.450/DF (biografias não autorizadas), entendeu que a exigência de autorização prévia para biografias viola a liberdade de expressão e informação. E na ADI 4.815/DF e ADI 4.817/DF (Fake News), em julgamento histórico (2023/2024), o STF considerou constitucionais dispositivos da Lei 9.504/97 que combatem a disseminação em massa de desinformação (fake news) com potencial de afetar a lisura eleitoral, reconhecendo um novo limite legítimo no contexto digital.
O termo “manipulação não profissional” refere-se à criação e disseminação intencional de conteúdo enganoso (desinformação), difamatório ou de ódio por indivíduos ou grupos sem vínculo formal com veículos de comunicação tradicionais, utilizando principalmente redes sociais, aplicativos de mensagem e plataformas de vídeo. Seus traços marcantes são:
Baixo Custo e Alta Viralidade: Ferramentas digitais acessíveis permitem a produção e disseminação massiva.Anonimato e Pseudonimato: Facilita a impunidade e o ataque covarde.
Exploração de Vieses Cognitivos: Algoritmos reforçam câmaras de eco e bolhas de filtro (Cass Sunstein), polarizando o debate. Incluem desestabilização política, difamação, incitação ao ódio, fraude (como golpes financeiros) e perseguição (cyberbullying).
Esta realidade coloca desafios agudos, tais como a responsabilização, por meio da aplicação de regras de responsabilidade civil (Art. 186, CC/02) e penal (como calúnia, difamação, injúria – Arts. 138, 139, 140 CP; incitação ao ódio – Lei 7.716/89) aos autores individuais ainda que se trate de um processo complexo devido à dificuldade de identificação acrescida ao volume avassalador de conteúdos. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) estabelece regras, como a notificação extrajudicial (Art. 19) para remoção de conteúdo ofensivo por provedores. Nessa linha, a jurisprudência (ex: REsp 1.593.847 – SP) tem evoluído na definição dos deveres dos provedores. De qualquer forma, é imperioso mencionar que a lentidão processual contrasta com a velocidade da propagação online (Streisand effect).
Como diferenciar opinião polêmica ou crítica contundente de manipulação maliciosa ou discurso de ódio sem cair em censura? O STF enfrentou isso nas ADIs das Fake News, exigindo dolo específico (intenção de fraudar a eleição) e potencial lesivo em massa para configurar a ilicitude penal eleitoral. A discussão sobre a autorregulação eficaz e a corregulação (com intervenção estatal mínima e proporcional) é central (Relatório do TSE sobre Desinformação, 2022). É imperativo desconstruir o sofisma recorrente de que a liberdade de expressão confere carta branca para o discurso agressivo, difamatório ou de ódio. A distinção é jurídica, filosófica e sociológica.
A liberdade protege o debate de ideias, a crítica, a sátira (mesque ácida), a expressão artística e a informação. O abuso ocorre quando a expressão Dano Concreto e Ilicito pode ser de ordem moral (honra, imagem, privacidade – Art. 5º, X, CF), material ou à ordem democrática. Incita à Violência Iminente ou Discriminação (Brandenburg vs. Ohio, EUA – padrão adotado implicitamente pelo STF) ou pratica hate speech (discurso que inferioriza grupos por características protegidas como raça, religião, orientação sexual), podendo constituir fraude ou desinformação maliciosa, com potencial Lesivo Grave: Como nas eleições ou na saúde pública (ex.: campanhas antivacina baseadas em falsidades).
A liberdade finda onde começa o dano injusto a terceiros. A agressão verbal sistemática (cyberbullying) ou a difamação causam danos psíquicos e sociais mensuráveis. O discurso de ódio e a desinformação agressiva são formas de violência simbólica, que reforçam estruturas de dominação, estigmatizam grupos vulneráveis e corroem o tecido social e o diálogo democrático.
No que diz respeito à responsabilização, o ordenamento oferece mecanismos robustos para coibir a agressão disfarçada de opinião. No mesmo sentido, responsabilidade civil, que se ultima em indenização por danos morais e materiais (Arts. 186, 927, CC/02; Art. 5º, V e X, CF). A doutrina de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho é basilar. Já a responsabilidade penal ultima-se por tipificações específicas como Calúnia (Art. 138 CP), Difamação (Art. 139 CP), Injúria (Art. 140 CP – incluindo injúria racial qualificada – § 3º), Incitação ao Crime (Art. 286 CP), Apologia ao Crime ou Criminoso (Art. 287 CP) e os crimes de Racismo (Lei 7.716/89). A jurisprudência é vastíssima (ex: HC 154.248/SP sobre injúria racial em redes sociais). Eugênio Raul Zaffaroni alerta para o risco de criminalização excessiva da palavra, exigindo estrita adequação típica e análise do contexto. Já a Ação Popular (Art. 5º, LXXIII, CF) e a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) podem ser usadas para coibir danos difusos causados por campanhas de ódio ou desinformação massiva.
As reflexões acima permitem inferir que a a liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988 permanece como um farol essencial da democracia brasileira. Contudo, a emergência da manipulação não profissional nas redes digitais e a banalização da agressão verbal exigem uma releitura constante e corajosa dos seus limites. A resposta não reside na censura prévia, que é constitucionalmente vedada, mas na aplicação rigorosa e eficiente da legislação existente (civil e penal), no fortalecimento da educação midiática (media literacy) para formar cidadãos críticos, na corregulação responsável das plataformas digitais e, acima de tudo, na clara compreensão social e jurídica de que liberdade de expressão não é sinônimo de licença para caluniar, difamar, incitar o ódio ou enganar massivamente.
Como lembra Karl Popper, em sua “Paradoxo da Tolerância”, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da própria tolerância. Defender a liberdade de expressão implica, necessariamente, combatê-la quando ela se transforma em instrumento de agressão e destruição do próprio diálogo democrático que pretende proteger. A linha divisória é tênue, mas sua manutenção é condição de sobrevivência do Estado Democrático de Direito.