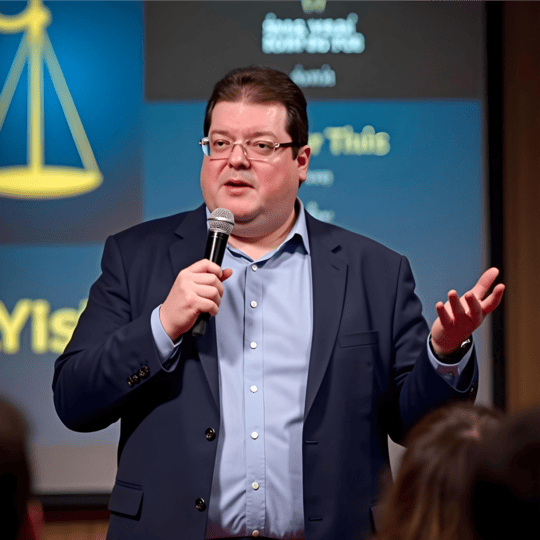A temática do usucapião de bens públicos, ainda que pareça, a um olhar superficial, uma mera questão técnico-jurídica de Direito Civil, revela, quando submetida a uma análise mais detida, complexas tensões entre princípios constitucionais, valores basilares do Estado Democrático de Direito, categorias da Teoria Geral do Direito e problemáticas sociológicas que perpassam a função social da propriedade. Estamos, pois, diante de um objeto epistêmico que exige abordagem multifacetada, capaz de conjugar o rigor conceitual da dogmática jurídica com a sensibilidade crítica das ciências humanas.
No plano da teoria do Direito, a assertiva segundo a qual bens públicos não estão sujeitos à usucapião decorre, tradicionalmente, de sua classificação como bens imprescritíveis, insuscetíveis de alienação e afetados à realização do interesse público. Essa lógica se assenta em um raciocínio formalista: sendo os bens públicos titularizados por entes estatais e destinados à consecução de fins coletivos, não se poderia permitir que particulares, ainda que de boa-fé e por longo tempo, deles se apropriem. Tal tese encontra respaldo no art. 183, §3º, e no art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, que vedam expressamente a usucapião de bens públicos.
Contudo, cumpre indagar: estariam essas normas constitucionais imunes a uma releitura crítica? Seria legítimo, sob o prisma da justiça distributiva e da função social da propriedade, negar a possibilidade de usucapião sobre bens que, embora públicos em registro, são abandonados pelo poder público e, na prática, apropriados por populações vulneráveis como forma de sobrevivência?
O pensamento filosófico de matriz contratualista — de Hobbes a Rousseau — sempre concebeu o Estado como detentor de um patrimônio comum, do qual emana a legitimidade de gerir bens em nome da coletividade. Porém, a concepção moderna de propriedade pública, tributária da Revolução Francesa, impõe uma sacralização do domínio estatal que, não raro, desconsidera as realidades empíricas do uso e da função.John Locke, em seu Segundo Tratado sobre o Governo, sustenta que a propriedade advém do trabalho: é a apropriação de algo pela ação do indivíduo. Ora, quando comunidades inteiras se instalam por décadas em áreas públicas desprovidas de qualquer função estatal efetiva, e ali constroem suas vidas, escolas informais, centros religiosos, hortas e vínculos comunitários, não estariam elas realizando, ainda que tacitamente, a função social que deveria ser promovida pelo Estado?
A Filosofia do Direito de Ronald Dworkin também contribui para esse debate. Em sua obra Levando os Direitos a Sério, Dworkin critica a rigidez da aplicação mecânica das normas, advogando por uma leitura que considere princípios e direitos fundamentais. Nesse sentido, a vedação absoluta à usucapião de bens públicos poderia colidir com o direito à moradia (art. 6º da CF/88) e com os postulados da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), exigindo, portanto, uma ponderação hermenêutica.
Pierre Bourdieu, em sua crítica ao poder simbólico do Direito, demonstra como a normatividade pode legitimar desigualdades ao ocultar-se sob o véu da neutralidade técnica. O interdito à usucapião de bens públicos ilustra esse fenômeno: ao proteger abstratamente o patrimônio estatal, perpetua a exclusão concreta de populações que, por necessidade, ocupam terras abandonadas pelo próprio poder público.Norberto Bobbio, por sua vez, chama a atenção para a distinção entre o “ser” e o “dever-ser” no Direito. A proibição formal da usucapião ignora o “ser” sociológico das ocupações urbanas, preferindo o “dever-ser” idealizado do aparato estatal eficiente — que, no Brasil, é frequentemente uma ficção.
Diante dessas considerações, é possível vislumbrar uma hermenêutica constitucional alternativa, que não nega o texto normativo, mas o interpreta à luz do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. A jurisprudência poderia, nesse sentido, reconhecer situações excepcionais em que a posse prolongada de bem público abandonado, acompanhada da construção de laços comunitários e do atendimento à função social, legitime uma espécie de usucapião constitucionalizada, com base na dignidade humana e no direito à cidade.
A Constituição, como já ensinava Karl Loewenstein, não é apenas um código jurídico, mas um pacto político-cultural. Interpretá-la requer, pois, sensibilidade para o contexto e coragem para a crítica — virtudes que raramente convivem com o formalismo estéril da dogmática tradicional.
A vedação à usucapião de bens públicos, embora juridicamente estabelecida, não está imune a críticas filosóficas, sociológicas e constitucionais. Em um país marcado por profundas desigualdades e pela ineficiência crônica do aparato estatal, repensar esse dogma é não apenas legítimo, mas necessário. O Direito, se quiser permanecer instrumento de justiça e não de exclusão, deve saber ouvir as vozes das ruas, os silêncios das periferias e as exigências éticas do tempo presente. Afinal, como diria Miguel Reale, “o Direito é fato, valor e norma” — e nenhum desses elementos pode ser ignorado sob pena de trair a sua própria essência.